
A navalha e o labirinto: neurodegeneração, simplificação e o lugar da Inteligência Artificial
Em neurodegeneração, o primeiro desafio não é a complexidade do cérebro — é fingir que ela não existe. As doenças neurodegenerativas não se comportam como um defeito único a corrigir – como muitas moléstias que afetam a saúde humana, povoando o imaginário das pessoas e de muitos profissionais –, mas como trajetórias que atravessam genética, epigenética, metabolismo e imunidade, sinapses e redes neurais, tudo isso evoluindo ao longo do tempo de vida de cada pessoa. A mesma etiqueta diagnóstica abrange subtipos com ritmos, sintomas e respostas distintas. Resultados que parecem inequívocos na média podem “inverter o sinal” quando analisamos por idade, sexo, comorbidades e/ou ambiente. Pequenas alterações moleculares se amplificam em circuitos; episódios discretos somam-se até ultrapassar limiares. Processos que, num momento, protegem, no seguinte, desorganizam. Começar por esse terreno concreto — multiescala, heterogêneo e dinâmico — é reconhecer que o custo de simplificar demais pode ser elevado. É reconhecer que há certa ordem no caos, mas que tal ordem precisa ser desvendada.
Diante desse labirinto, a ciência recorre a um princípio antigo e amplamente utilizado, tão utilizado que passou a fazer parte do nosso repertório intelectual: a Navalha de Ockham (para saber mais: https://pt.wikipedia.org/wiki/Navalha_de_Ockham). Se um fenômeno tem várias explicações, a mais simples e com menor número de premissas é a mais correta. Conhecido também como princípio da parcimônia. A parcimônia desincha hipóteses, melhora a testabilidade, organiza o debate e torna a comunicação científica mais clara e, no geral, mas simples de ser entendida. Sem ela, qualquer dado explicaria qualquer coisa. Mas a navalha é uma heurística, não uma lei da natureza. Em sistemas não lineares e contextuais, a busca por um único agente tende a apagar relações condicionais, efeitos de interação e relações temporais cruciais. Simplificar para agir é necessário; mutilar para caber é um erro. Em neurodegeneração, reduzir permite trabalhar, mas só reduzir não basta para acertar.
Três armadilhas ajudam a visualizar esse ponto. A primeira é a média que mente: padrões que surgem na população desaparecem — ou até se invertem — quando analisamos subgrupos, o velho lembrete do paradoxo de Simpson (para saber mais https://pt.wikipedia.org/wiki/Paradoxo_de_Simpson). A segunda é o indicador que vira fim: quando transformamos um biomarcador em meta, deixamos de medir o que importa, a conhecida lei de Goodhart (https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Goodhart). Na clínica, a vitória em um indicador pode coexistir com fracasso em desfechos funcionais. Exemplo claro das terapias anti-amiloide na Doença de Alzheimer, com medicamentos altamente efetivos em diminuição de marcadores, porém com baixo impacto no que realmente importa – cognição e melhora da qualidade de vida. A terceira é a causalidade que evapora: correlações limpas em dados agregados se desfazem quando repomos a temporalidade e o mecanismo; o que hoje compensa, amanhã pode lesar. A boa parcimônia remove excesso de explicação sem cortar o fio causal nem a textura do contexto.
A descoberta dos elementos genéticos móveis exemplifica o caso. Por décadas, vastas regiões do DNA humano foram chamadas de “junk DNA”. Ali localizam-se os elementos genéticos móveis (também chamados de elementos transponíveis) — sequências capazes de copiar-se e inserir-se em novos locais do genoma. À primeira vista, tudo isso soa improvável: por que a natureza manteria tantos “passageiros” no nosso e no genomas de outras espécies? No entanto, a história recente virou a narrativa. O que parecia ruído revela-se fonte de material genético funcional: trechos que funcionam como promotores e enhancers, rotas de plasticidade que células e organismos cooptaram ao longo da evolução. Em certos contextos, porém, os mesmos elementos contribuem para a desorganização de um genoma ou estado celular. Em neurodegeneração, esse “não usual” importa — e muito.
Com o envelhecimento, a regulamentação epigenética desses elementos torna-se irregular entre diferentes tipos celulares e regiões cerebrais. Não é um interruptor, mas sim um gradiente. Quando a barreira afrouxa, quatro vias — que podem coexistir — ganham consequências. Primeiro, a instabilidade genômica local: inserções e rearranjos falhos criam quebras no genoma e sobrecarregam os mecanismos de reparo de DNA; em neurônios, onde energia e homeostase são preciosas, pequenos custos crônicos acumulam dano. Segundo, o ruído regulatório, com endereço: promotores e enhancers “fora de lugar” desalinham programas de expressão gênica que são circuitos finamente regulados; escorregões discretos mudam limiares de excitabilidade e de resposta ao estresse, por exemplo. Terceiro, o perigo reconhecido pela imunidade inata: transcritos (ou o DNA citosólico) de elementos móveis acionam “sensores de perigo”, alimentando uma neuroinflamação de baixo grau — um fogo lento que retroalimenta a desorganização genômica e de circuitos celulares. Quarto, o mosaicismo somático: ao longo da vida, eventos raros criam micro populações celulares distintas; o tecido torna-se um mosaico dinâmico, a doença heterogênea por construção. Essas vias se entrelaçam em ciclos complexos de feedback. Exigir uma “bala de prata” causal (“X causa Y”) é ser simplista e mutilar a arquitetura do fenômeno. A boa parcimônia organiza a complexidade; não a extirpa.
Há aqui também uma lição de método. Nos campos de milho, Barbara McClintock (quem descobriu os elementos transponíveis) observou padrões não usuais — marcas citogenéticas que sugeriam genes saltadores (elementos transponíveis). A comunidade científica considerou a ideia improvável demais. Décadas depois, a noção de transposição não apenas foi aceita, mas também celebrada. O improvável, investigado com rigor, muda o que chamamos de provável (para saber mais https://galantelab.github.io/blog/dna/elementos%20transpon%C3%ADveis/gen%C3%A9tica/mulheres%20cientistas/2025/07/18/uma-cientista-muito-a-frente-de-seu-tempo.html). Em ciência, anomalias recorrentes não são sujeitas ao dado; são convites. Tratar o “junk DNA” como lixo foi, em parte, confundir o inusitado com o irrelevante. Em neurodegeneração, proteger o improvável de um descarte apressado significa perguntar onde e quando ele de fato importa: em que tipo celular, em que região, em que janela temporal da doença o efeito se manifesta; quais predições diferenciadoras ele permite; que achado o derrubaria; e que biomarcadores acessíveis o capturam de modo útil ao paciente. É assim que a parcimônia ganha ponta: corta o excesso, preserva a estrutura real.
Esse mesmo cuidado com o improvável esclarece o papel da inteligência artificial (IA). A IA é uma ferramenta extremamente útil. Ela pode integrar dados dispersos, detectar padrões latentes, priorizar hipóteses e acelerar os ciclos de investigação. Em neurodegeneração, ela pode ajudar a ordenar a heterogeneidade, a revelar estruturas que a inspeção humana não alcança, no geral, com facilidade. Mas a IA aprende do passado humano: depende de dados coletados, rotulados e interpretados por nós, fundamentados em teorias e decisões metodológicas humanas. Por construção, ela comprime o mundo em representações; algo sempre fica de fora. Fora da distribuição de treino, diante da heterogeneidade clínica e da mudança temporal, a IA pode errar com certa frequência. Seu lugar, portanto, é instrumental: organizar o caos e gerar boas perguntas, sem decretar verdades.
Pense num relógio analógico travado às 10:15: ele acerta duas vezes ao dia, mas não sabe as horas — apenas repete. Um modelo treinado num recorte estreito do mundo faz o mesmo: reproduz as regularidades daquele recorte; funciona quando o contexto é familiar e erra com confiança quando o cenário muda. Veja um exemplo concreto: modelos generativos de imagem — como os que alimentam sistemas do tipo ChatGPT — tendem a desenhar relógios mostrando 10:10/10:15. Não é porque “sabem” que horas são; é porque a maioria das fotos de relógios em catálogos e anúncios mostra exatamente essa hora (mãos simétricas, “sorriso” visual, logotipo desobstruído no topo, ponteiros sem se sobrepor). O modelo aprende essa moda visual a partir do conjunto de treino e a repete — não mede o tempo. O que “destrava” os ponteiros não é pedir mais imagens; é rever o mecanismo: confrontar o modelo com conhecimento biológico ou físico relevante, formular hipóteses explícitas e buscar novas evidências que as confirmem ou derrubem.
O que fazer, então, diante desse impasse? De um lado, o labirinto da complexidade neurodegenerativa; do outro, a navalha que, ao simplificar demais, nos cega ao essencial. A inteligência artificial, nossa ferramenta mais poderosa para navegar neste caos, corre o risco de ser apenas um relógio parado às 10:15, mestre em replicar o passado, mas incapaz de compreender o presente. O caminho não está em escolher entre a navalha e o labirinto, mas em encontrar um equilíbrio produtivo. É preciso um método que abrace a complexidade para entender, mas que saiba simplificar para agir.
Traduzir esse equilíbrio para a prática implica algumas mudanças de hábito e conceituais. No diagnóstico, trocar a obsessão pelo biomarcador único por painéis multiparamétricos que combinem imunologia, genômica, neuroimagem e cognição, com espaço para a heterogeneidade e o tempo — subtipos, trajetórias, reavaliações periódicas — e comunicação honesta de incerteza. No prognóstico, integrar contexto (idade, comorbidades, genética) à dinâmica (o mesmo marcador pode mudar de papel ao longo da doença), evitando decisões rígidas fundadas em substitutos frágeis. Na terapêutica, preferir combinações racionais — estabilização genômica, modulação inflamatória, ajustes metabólicos — moduladas por tipo celular, região e estágio, e ensaios adaptativos com enriquecimento por endofenótipo e endpoints multimodais. Na ética e na governança, cuidar da equidade de acesso, exigir transparência sobre limites e validação e priorizar desfechos de vida real.
Para não perder a mão, vale um lembrete operacional: hipóteses simples o suficiente para orientar a ação, completas o bastante para não trair o paciente. Dizer explicitamente o que o modelo não captura. Testar onde a hipótese deve falhar — em subgrupos, contextos e tempos distintos. Priorizar predições mecanísticas em relação às correlações inerentes. Medir o que importa ao paciente. Revisar pressupostos à luz de anomalias persistentes. Usar IA como instrumento; deixar que mecanismos guiem a decisão.
Partindo do problema real — a neurodegeneração como uma trajetória complexa —, vimos por que a Navalha de Ockham é necessária, mas insuficiente quando vira dogma. Reduzir nos permite trabalhar, mas só reduzir nos faz errar. O caso dos elementos móveis mostra que preservar a arquitetura do fenômeno abre espaço para hipóteses testáveis, alvos contexto-dependentes e biomarcadores úteis. A IA entra aí: acelera o caminho e amplia nosso alcance, mas caminha sobre o piso do conhecimento humano. Sem teoria e validação, todo acerto pode ser apenas “um 10:15”. Entre a navalha e o labirinto, a ciência clínica progride quando simplifica para agir e complexifica para acertar — nessa ordem.
FARINA, Lucas. A navalha e o labirinto: neurodegeneração, simplificação e o lugar da Inteligência Artificial. Galantelab, 28 de outubro de 2025. Disponível em: https://galantelab.github.io/blog/heterogeneidade/intelig%C3%AAncia%20artificial/neurodegenera%C3%A7%C3%A3o/2025/10/28/a-navalha-e-o-labirinto.html. Acesso em:
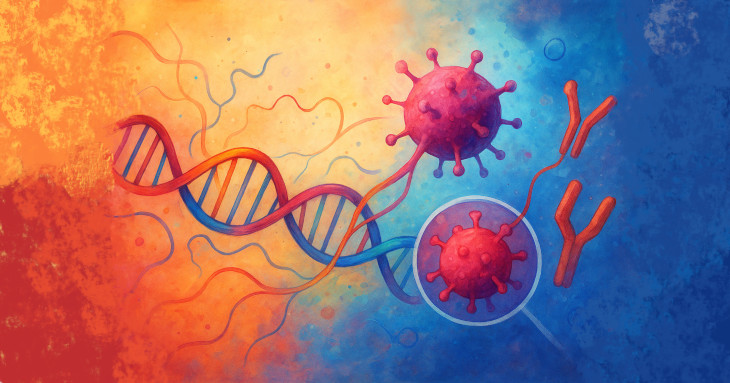 « HER2, splicing alternativo e os novos caminhos dos ADCs no câncer de mama
« HER2, splicing alternativo e os novos caminhos dos ADCs no câncer de mama
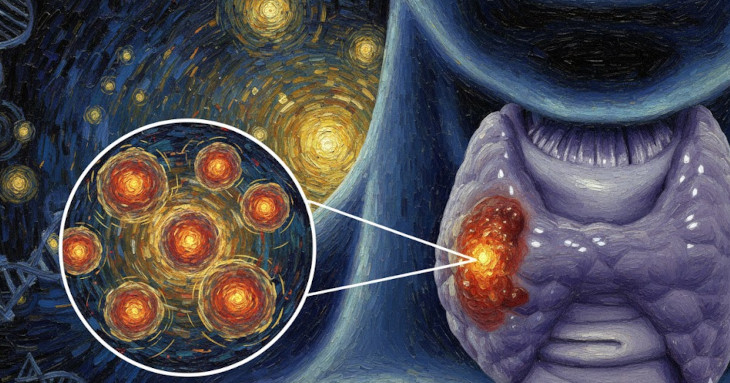 Fósseis de DNA e o câncer de tireoide: a descoberta que pode mudar o jogo »
Fósseis de DNA e o câncer de tireoide: a descoberta que pode mudar o jogo »
